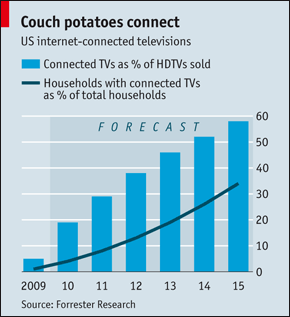Se você trabalha numa redação, departamento de criação ou qualquer outro ambiente criativo, olhe à sua volta. Tem um engenheiro de sistemas sentado perto de você? Falo de um cientista da computação, de uma pessoa que sabe escrever em linguagens como Java, PHP, Python, Perl, SQL ou Ruby. E aí? Achou? Não, o web designer não conta. Bom, se não tiver alguém com esse perfil trabalhando lado-a-lado com você, a sua organização pode ter um problema.
Muitas empresas ainda estão tratando de desenvolver e aprimorar sistemas e processos para colocar na internet o que já produziam antes dela existir. Acrescenta-se alguns links e um punhado de funcionalidades padrão para o consumidor poder comentar, partcipar de uma enquete, fazer um teste, "tuitar" o link ou clicar sua aprovação por meio do ferramental oferecido por diversas outras redes sociais. Essa máquina de transformar conteúdo analógico em "conteúdo web" pode ser suficiente para entrar no jogo digital, mas não é o suficiente para vencê-lo. É preciso abstrair o legado e começar a se perguntar como contar a melhor história, oferecer a melhor informação ou produzir a melhor mensagem publicitária com todos os recursos de que a internet dispõe. A pergunta é: que necessidades de informação e entretenimento do público poderiam ser melhor atendidas com recursos de programação?
O Engenheiro Criativo
Engenheiros ou desenvolvedores web são o elo perdido (ou, melhor, ainda não encontrado) entre a indústria da mídia e a internet. No mundo analógico, tudo era mais fácil de entender pois se encontrava no plano da física e não da informática; no mundo real, não no virtual. Era fácil distinguir o que o comunicador precisava saber sobre o processo de produção e distribuição de suas mensagens - e o que não precisava - para fazer bem o seu trabalho.
No mundo digital é diferente. Só alguém familiarizado com as linguagens de programação pode mostrar às equipes criativas todo o potencial e capacidade dessa nova forma de contar histórias, e seus limites. E não adianta essa pessoa ficar sentada lá no departamento de TI e ser convocada para executar as idéias da equipe criativa. Ela precisa sentar junto, participar do processo de criação. Design, fotografia, produção e filmagem são sub-disciplinas estabelecidas nas áreas criativas da indústria. A programação precisa se somar a elas com urgência. Além de contribuirem para o desenvolvimento novas linguagens e formatos para a comunicação, esses profissionais podem contribuir para reduzir custos e aumentar a produtividade. Observando os processos de trabalho dos colegas criativos, podem descobrir maneiras de automatizar tarefas repetitivas que consomem tempo e desenvolver ferramentas que auxiliem nas tarefas de pesquisa, apuração e comunicação.
29 de setembro de 2010
27 de setembro de 2010
Se Conteúdo é Rei, Serviço é a Rainha
A expressão “Content is King” foi cunhada por Bill Gates, fundador da Microsoft. É título de um profético ensaio que ele escreveu em 1996. Desde então, a frase se tornou um mantra para muitos profissionais da internet, de publishers a SEOs passando por publicitários e especialistas em marketing. Em 2005, virou título do livro de David Mill, diretor superintendente da agência inglesa de marketing digital, MediaCo.
Conteúdo pode mesmo ser Rei quando se trata de conquistar a atenção ou time spent dos usuários na internet. Excluindo a comunicação interpessoal, quase todo nosso tempo na rede é dedicado à descoberta e consumo de informação e entretenimento. Nenhum Rei governa sozinho, porém, e, na internet, serviço é a Rainha. Prova disso é a ascensão de empreendimentos web que primam por serviços tais como Amazon, Google e, mais recentemente, Facebook. Essas empresas são puro serviço. Elas comprovam que, quando o conteúdo não é muito diferenciado, o serviço pode fazer toda a diferença.
Muitas empresas da indústria de mídia focam na produção de conteúdo online (quando não apenas na reprodução na web de conteúdo offline) e conseguem bons resultados. Mas o que as separa do grande êxito que almejam na web – tanto em termos de audiência quanto financeiros - pode ser justamente a desatenção aos serviços. Aqui vai, portanto, um pequeno guia das categorias de serviço relacionados ao conteúdo que merecem um mínimo da atenção.
Serviços de Conteúdo 1.0
Serviços 1.0 são os também prestados no mundo offline ainda que de uma forma diferente. Muitas empresas de conteúdo ignoram a necessidade de investir para otimizar a prestação online.
Descoberta e divulgação
Estima-se que haja 800 exabytes* de conteúdo digital disponível hoje na internet e que, até 2020, esse número aumentará para 53 zetabytes*. Além de investirem para divulgar seu conteúdo online, empresas de conteúdo, especialmente as de jornalismo, precisam incorporar a noção de "rede" ao seu modus operandi, oferecendo links independente do destino estar ou não hospedado por elas. Têm em seus quadros os talentos editoriais para selecionar o melhor da internet e indicá-lo a seus usuários como já fazem em suas versões offline, recomendando música, filmes, livros, lojas, produtos e muito mais. Com isso ampliariam muito o alcance e a impressão deixada por suas marcas na rede. E assumiriam sua vocação de âncora da internet.
Degustação
Com tantas opções de conteúdo, o consumidor quer ter certeza de que vai dedicar seu limitado tempo às melhores. Além de proporcionar isso, a degustação demonstra a confiança do criador na criação. As melhores referências para essa prática são os fabricantes de jogos eletrônicos e de software com seus demos e modelos freemium dedicados a aguçar o apetite do público.
Conteúdo pode mesmo ser Rei quando se trata de conquistar a atenção ou time spent dos usuários na internet. Excluindo a comunicação interpessoal, quase todo nosso tempo na rede é dedicado à descoberta e consumo de informação e entretenimento. Nenhum Rei governa sozinho, porém, e, na internet, serviço é a Rainha. Prova disso é a ascensão de empreendimentos web que primam por serviços tais como Amazon, Google e, mais recentemente, Facebook. Essas empresas são puro serviço. Elas comprovam que, quando o conteúdo não é muito diferenciado, o serviço pode fazer toda a diferença.
Muitas empresas da indústria de mídia focam na produção de conteúdo online (quando não apenas na reprodução na web de conteúdo offline) e conseguem bons resultados. Mas o que as separa do grande êxito que almejam na web – tanto em termos de audiência quanto financeiros - pode ser justamente a desatenção aos serviços. Aqui vai, portanto, um pequeno guia das categorias de serviço relacionados ao conteúdo que merecem um mínimo da atenção.
Serviços de Conteúdo 1.0
Serviços 1.0 são os também prestados no mundo offline ainda que de uma forma diferente. Muitas empresas de conteúdo ignoram a necessidade de investir para otimizar a prestação online.
Descoberta e divulgação
Estima-se que haja 800 exabytes* de conteúdo digital disponível hoje na internet e que, até 2020, esse número aumentará para 53 zetabytes*. Além de investirem para divulgar seu conteúdo online, empresas de conteúdo, especialmente as de jornalismo, precisam incorporar a noção de "rede" ao seu modus operandi, oferecendo links independente do destino estar ou não hospedado por elas. Têm em seus quadros os talentos editoriais para selecionar o melhor da internet e indicá-lo a seus usuários como já fazem em suas versões offline, recomendando música, filmes, livros, lojas, produtos e muito mais. Com isso ampliariam muito o alcance e a impressão deixada por suas marcas na rede. E assumiriam sua vocação de âncora da internet.
Degustação
Com tantas opções de conteúdo, o consumidor quer ter certeza de que vai dedicar seu limitado tempo às melhores. Além de proporcionar isso, a degustação demonstra a confiança do criador na criação. As melhores referências para essa prática são os fabricantes de jogos eletrônicos e de software com seus demos e modelos freemium dedicados a aguçar o apetite do público.
24 de setembro de 2010
De "Mad Men" a "Math Men"
A série Mad Men nos transporta à década de 1960, auge da era industrial e berço da publicidade, do marketing e da mídia modernos. No seriado, o protagonista, Don Draper, é diretor de criação de uma agência de publicidade. As propostas que faz a seus potenciais clientes (veja o vídeo) se destacam no programa. São representação fiel de práticas românticas, porém questionáveis, que caracterizavam nossa indústria naquele período (e que perduram hoje, em alguns círculos). Tanto sua formulação quanto sua exposição eram intuitivas, coerentes, brilhantes e arrebatadoras e, ao mesmo tempo, superficiais, infundadas e sem substância. O resultado, como preconizara o magnata do varejo, John Wanamaker, anos antes, era que "metade do dinheiro gasto com publicidade é desperdiçado, o problema é que não sei qual metade" (frase indevidamente atribuída a David Oglivy). Esse truísmo não se aplicava só à publicidade, mas também ao marketing e à produção de conteúdo de todos os tipos. Não podia ser diferente. Faltavam dados.
A ascensão da internet inaugurou a era dos Math Men. Com uma infinidade dados fluindo de clicks, cookies, beacons e outros tipos de sinalizadores que populam a web, o desperdício de outrora fica cada vez mais difícil de se justificar. O mercado impõe penalidades severas a quem persiste nesse caminho. Relampejos são substituídos por Insights for Search e intuição pela taxa de clicks. Tudo é mensurável e o que ainda não é medido, será em breve. A sigla ROI (return on investment ou "retorno sobre investimento") - tão antiga quanto a frase de Wanamaker - escapou das línguas de banqueiros e financistas e pousou nas de marketeiros e publicitários. Os Don Drapers de nossos tempos são pessoas como Avinash Kaushik, evangelista de analytics do Google, e Joe Zawadzki, fundador da MediaMath (quem inspirou o título deste post). Eles enxergam essa dimensão um pouco melhor que os demais e nos ajudam compreender o desconhecido. A personagem de Mad Men que mais se assemelha a eles é Greta Guttman cujas pesquisas, no enredo da série, acabam quase sempre na lata de lixo do diretor de criação.
A montanha de dados à nossa disposição intimida qualquer um mas, especialmente, àqueles com procedência artística. Quando fui entrevistado por Roberto Civita, antes de ser contratado pela Abril em 1999, ele me perguntou: "você é uma pessoa que sabe calcular ou que sabe escrever?" Implícito na pergunta estava o conceito de que cada um pertence a um lado do espectro. Você é analítico ou é criativo? Hoje, não hesitaria em contestar a premissa (e desconfio que era o que ele - visionário que é e ele mesmo freqüentador dos dois mundos - gostaria de ter ouvido). Se habitar ambos os lados do espéctro era uma exceção, hoje é uma obrigação. Todos, se ainda não a conquistamos, precisamos urgentemente de alfabetização estatística. Há simplesmente informação demais, valiosa e interessante demais para ser ignorada. A análise do comportamento do consumidor, do leitor ou do espectador não é mais uma atividade a ser relegada aos analistas de marketing e esquecida por publicitários e editores. As ferramentas estão ao alcance de todos e cada um deve usá-las para aprimorar seu trabalho. Primeiro, porque não há ninguém melhor do que você para decifrar que aspectos desses dados são mais relevantes para direcionar o seu trabalho. E, também, porque, ao digerir os dados e descobrir as verdades você mesmo, aumenta muito a probabilidade de que as aceite e as deixe lhe influenciar. Comece hoje! Segue algumas orientações básicas para lhe ajudar.
Não se intimide.
Comece a olhar um ou dois indicadores dos seus relatórios. O fato é que há mais deles do que qualquer um é capaz de digerir e aplicar sozinho, então escolha os que achar mais interessantes. Quais? Um dos mais curiosos é o bounce rate ou taxa de rejeições. Como diz Avinash em sua palestra, esse número representa a parcela dos seus visitantes que não encontraram nada, por minimamente interessante que fosse, na sua página para te dar um mísero click. Quem lê o MidiaScopio sabe que sou partidário do time spent, ou tempo no site, como variável chave a ser observada e controlada por quem produz conteúdo. O indicador que você escolher para acompanhar deve depender, sobretudo, do que mais lhe interessa, dos seus objetivos dentro do seu negócio.
A ascensão da internet inaugurou a era dos Math Men. Com uma infinidade dados fluindo de clicks, cookies, beacons e outros tipos de sinalizadores que populam a web, o desperdício de outrora fica cada vez mais difícil de se justificar. O mercado impõe penalidades severas a quem persiste nesse caminho. Relampejos são substituídos por Insights for Search e intuição pela taxa de clicks. Tudo é mensurável e o que ainda não é medido, será em breve. A sigla ROI (return on investment ou "retorno sobre investimento") - tão antiga quanto a frase de Wanamaker - escapou das línguas de banqueiros e financistas e pousou nas de marketeiros e publicitários. Os Don Drapers de nossos tempos são pessoas como Avinash Kaushik, evangelista de analytics do Google, e Joe Zawadzki, fundador da MediaMath (quem inspirou o título deste post). Eles enxergam essa dimensão um pouco melhor que os demais e nos ajudam compreender o desconhecido. A personagem de Mad Men que mais se assemelha a eles é Greta Guttman cujas pesquisas, no enredo da série, acabam quase sempre na lata de lixo do diretor de criação.
A montanha de dados à nossa disposição intimida qualquer um mas, especialmente, àqueles com procedência artística. Quando fui entrevistado por Roberto Civita, antes de ser contratado pela Abril em 1999, ele me perguntou: "você é uma pessoa que sabe calcular ou que sabe escrever?" Implícito na pergunta estava o conceito de que cada um pertence a um lado do espectro. Você é analítico ou é criativo? Hoje, não hesitaria em contestar a premissa (e desconfio que era o que ele - visionário que é e ele mesmo freqüentador dos dois mundos - gostaria de ter ouvido). Se habitar ambos os lados do espéctro era uma exceção, hoje é uma obrigação. Todos, se ainda não a conquistamos, precisamos urgentemente de alfabetização estatística. Há simplesmente informação demais, valiosa e interessante demais para ser ignorada. A análise do comportamento do consumidor, do leitor ou do espectador não é mais uma atividade a ser relegada aos analistas de marketing e esquecida por publicitários e editores. As ferramentas estão ao alcance de todos e cada um deve usá-las para aprimorar seu trabalho. Primeiro, porque não há ninguém melhor do que você para decifrar que aspectos desses dados são mais relevantes para direcionar o seu trabalho. E, também, porque, ao digerir os dados e descobrir as verdades você mesmo, aumenta muito a probabilidade de que as aceite e as deixe lhe influenciar. Comece hoje! Segue algumas orientações básicas para lhe ajudar.
Não se intimide.
Comece a olhar um ou dois indicadores dos seus relatórios. O fato é que há mais deles do que qualquer um é capaz de digerir e aplicar sozinho, então escolha os que achar mais interessantes. Quais? Um dos mais curiosos é o bounce rate ou taxa de rejeições. Como diz Avinash em sua palestra, esse número representa a parcela dos seus visitantes que não encontraram nada, por minimamente interessante que fosse, na sua página para te dar um mísero click. Quem lê o MidiaScopio sabe que sou partidário do time spent, ou tempo no site, como variável chave a ser observada e controlada por quem produz conteúdo. O indicador que você escolher para acompanhar deve depender, sobretudo, do que mais lhe interessa, dos seus objetivos dentro do seu negócio.
21 de setembro de 2010
Eles não pagam por conteúdo. Tem certeza?
"As pessoas não estão dispostas a pagar por conteúdo digital". Essa noção - amplamente disseminada e subscrita por grande parte da indústria de mídia - pode ser a ruína de empresas tradicionais de conteúdo que se esforçam para permanecer relevantes em novos tempos. Não por ser verdadeira - pois não é - mas porque desestimula investimentos imprescindíveis para o sucesso na era digital, tanto em conteúdo como nos serviços associados à sua aquisição e consumo. A suposta avareza dos internautas exonera cultivadores dessa idéia dos imperativos de todo empreendedor: inovar, competir e criar valor. Lhes permite fechar os olhos para a mais provável, porém penosa, realidade de que simplesmente não foram capazes de criar uma proposta de valor que ressoasse com seus consumidores.
Em 2008, exasperado pela pirataria de sua propriedade intelectual, o desenvolvedor de games inglês, Cliff Harris, fez uma coisa inusitada para criadores de conteúdo: resolveu dialogar com os piratas para entender porque faziam o que faziam. Por que não compravam seus jogos? Em seu relato - equilibrado, esclarecido e despido de preconceito ou orgulho - das respostas que recebeu, deixa claro que, embora haja uma pequena parcela de piratas assumidos que não pagariam por conteúdo em nenhuma hipótese, a maioria estaria, sim, disposta a pagar, ainda que em condições diferentes das que ele vinha propondo. De fato, estimativas conservadoras indicam que consumidores pagaram 16,7 bilhões de dólares para acessar conteúdo digital em 2009 e que esse número crescerá para mais de 36 bilhões até 2014. É uma parcela minúscula dos 600 bilhões de dólares que consumidores gastaram, também em 2009, com assinaturas de TV à cabo, música, filmes, vídeo games, revistas, jornais e livros, segundo estudo da Price Waterhouse Coopers. Ainda assim, representa vários bilhões de dólares a mais que o necessário para refutar completamente a noção de que as pessoas não estão dispostas a pagar por conteúdo online. A pergunta que os joga-toalhas da mídia tradiconal deveriam fazer é: porque as pessoas não estão dispostas a pagar pelo meu conteúdo digital? É isso que precisam perguntar, não aos que hoje pagam por seus produtos analógicos, mas àquelas dezenas de milhares de outros que consomem sua produção pela internet, de graça. Façam como Cliff Harris.
Segue algumas das principais hipóteses a serem testadas junto à legião de consumidores digitais em potencial com a qual a maioria das empresas de mídia já pode contar. Não precisa perguntar diretamente a eles, basta experimentar. Realizar experimentos na web que medem com precisão como seus usuários e consumidores irão reagir a determinadas ofertas é fácil, barato e muito mais objetivo do que perguntar.
Quanto vale o meu conteúdo?
Preço não é uma função de custo ou esforço, mas de valor agregado. E valor é um consenso. O preço de qualquer bem ou serviço não pode ser menor do que o vendedor está disposto a receber nem maior do que o comprador está disposto a pagar (uma obviedade que nem todos enxergam). E, por mais difícil que seja de encarar, o que o consumidor digital está disposto a pagar por grande parte do conteúdo disponibilizado online hoje, quando não for zero, será muito próximo disso. A realidade é que já há centenas de vezes mais conteúdo disponível na rede do que qualquer indivíduo seria capaz de consumir durante uma vida. Ou seja, quanto menos único for um conteúdo, quanto mais comparável a outros - mesmo que diferenciado por uma ordem de grandeza em termos de qualidade -, mais marginal será o valor que alcança no mercado. Há, portanto, dois caminhos (não necessariamente exclusivos): cobrar os centavos que alguns consumidores estarão dispostos a pagar para consumir o que mais lhes atrai daquilo que se produz hoje e investir para desenvolver produtos e serviços de conteúdo únicos e de alto valor agregado pelos quais estarão dispostos a pagar mais.
 |
| Insira Moeda Aqui |
Segue algumas das principais hipóteses a serem testadas junto à legião de consumidores digitais em potencial com a qual a maioria das empresas de mídia já pode contar. Não precisa perguntar diretamente a eles, basta experimentar. Realizar experimentos na web que medem com precisão como seus usuários e consumidores irão reagir a determinadas ofertas é fácil, barato e muito mais objetivo do que perguntar.
Quanto vale o meu conteúdo?
Preço não é uma função de custo ou esforço, mas de valor agregado. E valor é um consenso. O preço de qualquer bem ou serviço não pode ser menor do que o vendedor está disposto a receber nem maior do que o comprador está disposto a pagar (uma obviedade que nem todos enxergam). E, por mais difícil que seja de encarar, o que o consumidor digital está disposto a pagar por grande parte do conteúdo disponibilizado online hoje, quando não for zero, será muito próximo disso. A realidade é que já há centenas de vezes mais conteúdo disponível na rede do que qualquer indivíduo seria capaz de consumir durante uma vida. Ou seja, quanto menos único for um conteúdo, quanto mais comparável a outros - mesmo que diferenciado por uma ordem de grandeza em termos de qualidade -, mais marginal será o valor que alcança no mercado. Há, portanto, dois caminhos (não necessariamente exclusivos): cobrar os centavos que alguns consumidores estarão dispostos a pagar para consumir o que mais lhes atrai daquilo que se produz hoje e investir para desenvolver produtos e serviços de conteúdo únicos e de alto valor agregado pelos quais estarão dispostos a pagar mais.
18 de setembro de 2010
Lendo de um jeito completamente diferente
Por Kevin Kelly*
Introdução
Em seu mais recente tratado, publicado na última edição da Smithsonian Magazine, Kevin Kelly, um brilhante pensador da convergência entre tecnologia, mídia e sociedade, narra a evolução da leitura da antiguidade à atualidade e nos oferece sua visão da próxima etapa. Concordando ou não com sua visão, é inevitável extrair do artigo valiosos insights sobre a crescente importância da vinculação entre texto e imagem, da desagregação da informação em unidades mais flexíveis e permeáveis e dos caminhos para engajar os leitores "ativos" do futuro. E, para os que temem pelo futuro das mídias impressas, o texto de Kelly não deixa dúvida que a palavra impessa se tornará cada vez mais relevante. Traduzi** e compartilho aqui mais esse texto do co-fundador da Wired. É um pouco comprido, é verdade, mas vale muito a pena.
A leitura e a escrita, assim como todas as tecnologias, são dinâmicas. Na antiguidade, autores frequentemente ditavam seus livros. O ditado soava como uma série ininterrupta de letras, de modo que escribas anotavam as letras em uma seqüência longa e contínua, assimcomoocorremnafala. Espaços entre as palavras permaneceram ausentes dos textos até o século 11. Essa escrita contínua tornava os livros difíceis de serem lidos e, portanto, apenas algumas pessoas desenvolveram o talento de ler aos demais em voz alta. Ser capaz de ler em silêncio para si mesmo era considerado um talento incrível. Escrever era uma habilidade ainda mais rara. Na Europa do século 15, apenas um em cada 20 homens adultos sabia escrever.
Após o surgimento da imprensa de Gutenberg por volta de 1440, os livros produzidos em massa mudaram a forma como as pessoas liam e escreviam. A tecnologia de impressão expandiu o número de palavras disponíveis (de cerca de 50.000 em Inglês Antigo para um milhão hoje). Mais opções de palavras ampliaram o que podia ser comunicado. Mais opções de meios de comunicação ampliaram os temas sobre os quais se podia escrever. Autores não precisavam mais compor só tomos eruditos. Podiam "desperdiçar" livros baratos para contar histórias de amor (o romance foi inventado em 1740), ou publicar suas memórias, mesmo que não fossem Reis. As pessoas podiam escrever panfletos de oposição ao consenso dominante e, com a impressão barata, suas idéias heterodoxas podiam ganhar influência suficiente para derrubar um rei ou um papa. Com o tempo, o poder dos autores pariu a noção da autoridade e alimentou uma cultura de competência. A perfeição era alcançada "by the book" [expressão em inglês que significa "rigorosamente conforme as regras" mas que se traduz literalmente como “pelo livro”]. Leis foram compiladas em volumes oficiais, contratos foram registrados em papel e nada mais era válido, se não estivesse por escrito. Pintura, música, arquitetura, dança eram todas importantes, mas o coração da cultura ocidental palpitava ao ritmo da virada das páginas de um livro. Em 1910, três em cada quatro cidades nos Estados Unidos com mais de 2.500 moradores contavam com uma biblioteca pública. Nos tornamos um povo do livro.
Hoje, cerca de 4,5 bilhões de telas digitais iluminam nossas vidas. As palavras migraram da polpa de madeira para pixels em computadores, telefones, laptops, consoles de jogos, televisores, outdoors e tablets. Letras já não são fixadas no papel com tinta preta, mas flutuam sobre uma superfície de vidro em um arco-íris de cores tão rápidas quanto um piscar de olhos. Telas preenchem nossos bolsos e pastas, os painéis dos carros, as paredes das salas e dos edifícios. Eles repousam diante de nós quando trabalhamos – independente do que fazemos. Agora, somos um povo da tela. E, claro, estas telas recém-ubíquas mudaram o modo como lemos e escrevemos.
Introdução
Em seu mais recente tratado, publicado na última edição da Smithsonian Magazine, Kevin Kelly, um brilhante pensador da convergência entre tecnologia, mídia e sociedade, narra a evolução da leitura da antiguidade à atualidade e nos oferece sua visão da próxima etapa. Concordando ou não com sua visão, é inevitável extrair do artigo valiosos insights sobre a crescente importância da vinculação entre texto e imagem, da desagregação da informação em unidades mais flexíveis e permeáveis e dos caminhos para engajar os leitores "ativos" do futuro. E, para os que temem pelo futuro das mídias impressas, o texto de Kelly não deixa dúvida que a palavra impessa se tornará cada vez mais relevante. Traduzi** e compartilho aqui mais esse texto do co-fundador da Wired. É um pouco comprido, é verdade, mas vale muito a pena.
Lendo de um jeito completamente diferente
Após o surgimento da imprensa de Gutenberg por volta de 1440, os livros produzidos em massa mudaram a forma como as pessoas liam e escreviam. A tecnologia de impressão expandiu o número de palavras disponíveis (de cerca de 50.000 em Inglês Antigo para um milhão hoje). Mais opções de palavras ampliaram o que podia ser comunicado. Mais opções de meios de comunicação ampliaram os temas sobre os quais se podia escrever. Autores não precisavam mais compor só tomos eruditos. Podiam "desperdiçar" livros baratos para contar histórias de amor (o romance foi inventado em 1740), ou publicar suas memórias, mesmo que não fossem Reis. As pessoas podiam escrever panfletos de oposição ao consenso dominante e, com a impressão barata, suas idéias heterodoxas podiam ganhar influência suficiente para derrubar um rei ou um papa. Com o tempo, o poder dos autores pariu a noção da autoridade e alimentou uma cultura de competência. A perfeição era alcançada "by the book" [expressão em inglês que significa "rigorosamente conforme as regras" mas que se traduz literalmente como “pelo livro”]. Leis foram compiladas em volumes oficiais, contratos foram registrados em papel e nada mais era válido, se não estivesse por escrito. Pintura, música, arquitetura, dança eram todas importantes, mas o coração da cultura ocidental palpitava ao ritmo da virada das páginas de um livro. Em 1910, três em cada quatro cidades nos Estados Unidos com mais de 2.500 moradores contavam com uma biblioteca pública. Nos tornamos um povo do livro.
Hoje, cerca de 4,5 bilhões de telas digitais iluminam nossas vidas. As palavras migraram da polpa de madeira para pixels em computadores, telefones, laptops, consoles de jogos, televisores, outdoors e tablets. Letras já não são fixadas no papel com tinta preta, mas flutuam sobre uma superfície de vidro em um arco-íris de cores tão rápidas quanto um piscar de olhos. Telas preenchem nossos bolsos e pastas, os painéis dos carros, as paredes das salas e dos edifícios. Eles repousam diante de nós quando trabalhamos – independente do que fazemos. Agora, somos um povo da tela. E, claro, estas telas recém-ubíquas mudaram o modo como lemos e escrevemos.
Marcadores:
conteúdo,
desagregação,
engajamento,
hipertexto,
imagem,
Kevin Kelly,
texto
16 de setembro de 2010
Aqui e acolá: os limites da localização na mídia
Geolocalização está rapidamente se tornando a palavra da moda no mundo da mídia. Ao ultrapassar o milhão de usuários, receber milhões de dólares dos fundos de private equity e divulgar acordos com grandes anunciantes, serviços incipientes como Foursquare, Brightkite e Gowalla já são apontados como os próximos Facebook ou Twitter. Para marketeiros entusiastas da tecnologia, a possibilidade de se comunicar com potenciais consumidores sabendo exatamente onde estão naquele momento parece, incialmente, algo aparentado a um superpoder.
Menos. Ainda que o conceito, no primeiro momento, possa soar como algo tirado de um filme de ficção científica, isso não significa que seja o novo Santo Gral do marketing, da publicidade e da comunicação. Localização, no fim das contas, é apenas mais uma informação, mais um dado - e talvez um dos menos importantes - dentre os que podem ser usados para formular e entregar uma oferta comercial ao consumidor. Sozinho, ele significa muito pouco. Saber o endereço residencial ou comercial de um consumidor pode ser marginalmente útil - especialmente para negócios que oferecem produtos e serviços locais - mas, por si só, agrega pouco insight em termos de levar a oferta certa no momento certo àquele consumidor. Quem eu sou é muito mais importante do que onde estou. Uma série de outras informações demográficas e psicográficas precisam ser somadas à localização para que o dado tenha maior relevância.
Por isso, geolocalização tende mais a ser um recurso de outras formas de mídia do que a base para uma nova mídia. Um recurso a ser aplicado com parcimônia e somente na medida em que o usuário der indícios de que seu local é uma variável relevante naquele momento. Na esfera do marketing de desempenho, qualquer outro procedimento pode representar perdas significativas. Em primeiro lugar, como já discutimos em outros posts, o recurso mais escasso em nossos tempos são os precisoso minutos de atenção de consumidores que têm quase infinitas opções de fontes de informação e entretenimento. Cada momento que dedicam a uma mídia representa uma oportunidade. Utilizar tal oportunidade de uma maneira menos que ótima significa uma perda.
Além do usuário, é importante considerar a natureza do mercado anunciante. Anunciantes para os quais a localização é um elemento importante do perfil do usuário são numerosos, mas tendem a ter verbas menores e, por isso, a se focarem mais em desempenho, em retorno sobre investimento. Podem até estar dispostos a pagar um prêmio em relação a outros anunciantes por uma conversão localizada, mas a probabilidade do veículo entregar essa conversão, de fazer com que seu usuário reaja à publicidade, está diretamente relacionada à sua relevância para ele naquele momento a qual, por sua vez, não pode ser deduzida meramente em função de sua localização, mas depende necessariamente de outros sinais que ele emita. Por outro lado, anunciantes para os quais a localização não é fator primordial - ainda mais numerosos e abastados em verbas que os outros - também estarão dispostos a pagar por uma conversão ou mesmo por uma impressão bem contextualizada ou bem dirigida a um membro de seu público-alvo.
Menos. Ainda que o conceito, no primeiro momento, possa soar como algo tirado de um filme de ficção científica, isso não significa que seja o novo Santo Gral do marketing, da publicidade e da comunicação. Localização, no fim das contas, é apenas mais uma informação, mais um dado - e talvez um dos menos importantes - dentre os que podem ser usados para formular e entregar uma oferta comercial ao consumidor. Sozinho, ele significa muito pouco. Saber o endereço residencial ou comercial de um consumidor pode ser marginalmente útil - especialmente para negócios que oferecem produtos e serviços locais - mas, por si só, agrega pouco insight em termos de levar a oferta certa no momento certo àquele consumidor. Quem eu sou é muito mais importante do que onde estou. Uma série de outras informações demográficas e psicográficas precisam ser somadas à localização para que o dado tenha maior relevância.
Por isso, geolocalização tende mais a ser um recurso de outras formas de mídia do que a base para uma nova mídia. Um recurso a ser aplicado com parcimônia e somente na medida em que o usuário der indícios de que seu local é uma variável relevante naquele momento. Na esfera do marketing de desempenho, qualquer outro procedimento pode representar perdas significativas. Em primeiro lugar, como já discutimos em outros posts, o recurso mais escasso em nossos tempos são os precisoso minutos de atenção de consumidores que têm quase infinitas opções de fontes de informação e entretenimento. Cada momento que dedicam a uma mídia representa uma oportunidade. Utilizar tal oportunidade de uma maneira menos que ótima significa uma perda.
Além do usuário, é importante considerar a natureza do mercado anunciante. Anunciantes para os quais a localização é um elemento importante do perfil do usuário são numerosos, mas tendem a ter verbas menores e, por isso, a se focarem mais em desempenho, em retorno sobre investimento. Podem até estar dispostos a pagar um prêmio em relação a outros anunciantes por uma conversão localizada, mas a probabilidade do veículo entregar essa conversão, de fazer com que seu usuário reaja à publicidade, está diretamente relacionada à sua relevância para ele naquele momento a qual, por sua vez, não pode ser deduzida meramente em função de sua localização, mas depende necessariamente de outros sinais que ele emita. Por outro lado, anunciantes para os quais a localização não é fator primordial - ainda mais numerosos e abastados em verbas que os outros - também estarão dispostos a pagar por uma conversão ou mesmo por uma impressão bem contextualizada ou bem dirigida a um membro de seu público-alvo.
10 de setembro de 2010
O dilema do controle
(ou "Como não jogar contra seus fãs")
Copiar conteúdo é fácil. A história tecnológica da mídia - das cópias feitas à mão por monges na idade média, à prensa de Guttenberg até os satélites e computadores - tem sido a busca pela capacidade de produzir e difundir cópias de maneira cada vez mais barata. A internet e outros meios digitais representam o ápice dessa evolução e o começo do grande dilema do controle. Em seu brilhante artigo Newspapers and Thinking the Unthinkable, Clay Shirky resume: "Quando um garoto de 14 anos, em seu tempo livre, pode implodir seu negócio e não por que ele te odeia, mas porque te ama, aí você tem um problema."
Quando o poder de copiar e distribuir sem limites caiu nas mãos do povo, a indústria entrou em parafuso. É irónico que atingir o desenvolvimento tecnológico almejado tenha provocado crises em alguns segmentos e temor em todas os demais. É curioso também. Afinal, alcaçar o maior público possível é a meta inerente de todo conteúdo, seja artístico, científico ou jornalístico. E se a tecnologia permite que cada consumidor se torne um agente promotor e distribuidor do conteúdo essa meta se torna mais fácil de atingir.
De forma geral, o pânico das indústrias de mídia é fruto do desejo de controlar toda a distribuição de seu conteúdo, de exercer o copyright (termo em inglês que se traduz como "direito autoral" mas que, literalmente, significa o direito de copiar). O grande dilema é que controlar diretamente a cópia e distribuição de conteúdo significa também limitar seu potencial alcance ou, para usar um termo internético, sua viralidade. E, além impor limites ao conteúdo, exercer tal controle pode significar agir contra seus maiores fãs como fez a indústria fonográfica mais de uma vez ao processar usuários que faziam downloads ilegais de mp3.
Copiar conteúdo é fácil. A história tecnológica da mídia - das cópias feitas à mão por monges na idade média, à prensa de Guttenberg até os satélites e computadores - tem sido a busca pela capacidade de produzir e difundir cópias de maneira cada vez mais barata. A internet e outros meios digitais representam o ápice dessa evolução e o começo do grande dilema do controle. Em seu brilhante artigo Newspapers and Thinking the Unthinkable, Clay Shirky resume: "Quando um garoto de 14 anos, em seu tempo livre, pode implodir seu negócio e não por que ele te odeia, mas porque te ama, aí você tem um problema."
Quando o poder de copiar e distribuir sem limites caiu nas mãos do povo, a indústria entrou em parafuso. É irónico que atingir o desenvolvimento tecnológico almejado tenha provocado crises em alguns segmentos e temor em todas os demais. É curioso também. Afinal, alcaçar o maior público possível é a meta inerente de todo conteúdo, seja artístico, científico ou jornalístico. E se a tecnologia permite que cada consumidor se torne um agente promotor e distribuidor do conteúdo essa meta se torna mais fácil de atingir.
De forma geral, o pânico das indústrias de mídia é fruto do desejo de controlar toda a distribuição de seu conteúdo, de exercer o copyright (termo em inglês que se traduz como "direito autoral" mas que, literalmente, significa o direito de copiar). O grande dilema é que controlar diretamente a cópia e distribuição de conteúdo significa também limitar seu potencial alcance ou, para usar um termo internético, sua viralidade. E, além impor limites ao conteúdo, exercer tal controle pode significar agir contra seus maiores fãs como fez a indústria fonográfica mais de uma vez ao processar usuários que faziam downloads ilegais de mp3.
6 de setembro de 2010
A melhor janela disponível
Como o leitor, espectador ou ouvinte escolhe o meio pelo qual irá acessar determinado conteúdo? Naturalmente, não há uma resposta simples já que cada um tem suas idiossincrasias, mas há um conceito que pode ser muito útil para ajudar produtores de conteúdo, publicitários e gestores de empresas de mídia a estruturarem seu pensamento sobre o tema: o da "best available window".
Trata-se de uma teoria simples e poderosa (eu ousaria chama-la de lei - Lei da Melhor Janela Disponível). Diz o seguinte: o consumidor sempre escolherá a melhor janela disponível para consumir informação ou entretenimento. Se entendemos isso como uma verdade absoluta - e parece razoável que o façamos - determinar em quais canais devemos apostar se torna um exercício muito menos desafiador ainda que continue exigindo grande empenho. Caveat emptor: "melhor" é um conceito subjetivo, mas a aplicação da lógica e de um pouquinho de conhecimento sobre natureza humana nos permitem desenvolver vários corolários da lei para cercar a questão e reduzir o escopo da análise.
Depende do formato do conteúdo
Essa é até um pouco óbvia. A melhor janela disponível vai depender da natureza do conteúdo. Para um conteúdo em vídeo a melhor janela é aquela com a melhor combinação de tamanho e resolução. Já para texto e imagem estática, a melhor janela é a que proporciona a melhor combinação de conforto ótico e portabilidade (o que significa não só a possibilidade de carregara pra lá e pra cá mas também a facilidade para posicionar e manter à distância ideal dos olhos). E, a despeito da ilustração que usei para este post, a melhor janela pode ser analógica (um livro, uma revista, etc.). Assim, entender as características dos meios que os consumidores do seu conteúdo valorizam e o grau em que elas são proporcionadas por cada meio disponível no mercado é fundamental.
As pessoas tendem à inércia
A primeira lei de Newton se aplica bem aos seres humanos. Tendemos a permancer na condição em que nos encontramos a não ser que uma força maior aja sobre nós. Funciona assim com a adoção de novas tecnologias. As pessoas em movimento - a minoria também conhecida como early adopters - anseiam pelos mais novos gadgets e gizmos e continuam sempre se mexendo na direção do novo. Já a maioria prefere ficar onde está até que uma força maior obrigue um movimento. Há várias forças que podem provocar movimento: a inveja é uma das mais frequentes, mas a obsolescência, o benefício e a oportunidade também são forças importantes. Mas, independente das forças em ação, a empresa de mídia pode procurar medir o grau de inércia associado aos meios em que atua e poderia atuar e, a partir dessa medida, extrapolar o quanto deve investir em cada um.
4 de setembro de 2010
Começa a batalha pela TV
No artigo "Hogging the remote", a revista The Economist desta semana especula sobre a disputa que se inicia pela atenção dos telespectadores. De um lado estão empresas de tecnologia como Apple, Amazon, Google-YouTube e Sony que começam a lançar aparelhos e serviços que visam conectar, finalmente, a televisão. De outro, as redes, estúdios de cinema, programadoras e distribuidoras de TV à cabo e por satélite que hoje dominam o espaço.
O que está em jogo são as 158 horas que as pessoas passam por mês em frente à telinha em média. Usei a palavra "telinha" de propósito, logo antes de sugerir que seja definitivamente aposentada por profissionais da mídia. Está mais que ultrapassada, herdada da época em que havia apenas duas telas em nossas vidas: a do cinema e a da TV. Hoje, ela é a mais importante das várias telas em nossa vida entre as quais podem estar, em ordem de tamanho, a do celular, do tablet, e-reader ou netbook, do laptop ou notebook, do desktop, da televisão e do cinema.
Ainda que curto, o artigo da Economist chama atenção para o que será a maior revolução - ou batalha, como preferir - da indústria da mídia em nossos tempos. Afinal, é em frente a ela que as pessoas passam 5 horas por dia em média e, não por coincidência, é nela também que se concentra mais de um terço de toda a receita gerada pela indústria global de mídia e entretenimento. E esse número tende a crescer.
Por que esse movimento só está começando agora? A Economist diz que é resultado da introdução no mercado de televisões equipadas para se concectarem à internet. Na verdade, a raíz dessa tendência está no aumento da penetração de conexões por banda larga nos domicílios. É essa conectividade que permite a transmissão de conteúdo em vídeo pela internet com alta definição e qualidade. Foi só no final de 2008 que penetração de conexões de banda larga ultrapassou 20% dos domicílios dos países membros da OCDE, por exemplo. Trata-se de um número mágico, um indicador de que um segemento é capaz de sustentar indústrias de massa. Até 2015, estima-se que 90% de todo o tráfego da internet será de vídeo. Ou seja, é só agora que a distribuição de conteúdo em vídeo pela internet está atingindo o grau de qualidade necessário para competir em pé de igualdade com os meios tradicionais de distribuição desse tipo de conteúdo, coisa que aconteceu para o conteúdo impresso e em áudio há pelo menos 10 anos.
Seja qual for o estopim, a revolução há de ser fascinante, não só pelo tamanho do bolo mas porque os adversários estão muito mais espertos. As indústrias de cinema e televisão tiveram a oportunidade de assistir de camarote à agonia das indústiras da música e do jornal e, ainda que propensas a cometerem exatamente os mesmos erros, estão mais preparadas e equipadas para jogar o jogo.
O que está em jogo são as 158 horas que as pessoas passam por mês em frente à telinha em média. Usei a palavra "telinha" de propósito, logo antes de sugerir que seja definitivamente aposentada por profissionais da mídia. Está mais que ultrapassada, herdada da época em que havia apenas duas telas em nossas vidas: a do cinema e a da TV. Hoje, ela é a mais importante das várias telas em nossa vida entre as quais podem estar, em ordem de tamanho, a do celular, do tablet, e-reader ou netbook, do laptop ou notebook, do desktop, da televisão e do cinema.
Ainda que curto, o artigo da Economist chama atenção para o que será a maior revolução - ou batalha, como preferir - da indústria da mídia em nossos tempos. Afinal, é em frente a ela que as pessoas passam 5 horas por dia em média e, não por coincidência, é nela também que se concentra mais de um terço de toda a receita gerada pela indústria global de mídia e entretenimento. E esse número tende a crescer.
Por que esse movimento só está começando agora? A Economist diz que é resultado da introdução no mercado de televisões equipadas para se concectarem à internet. Na verdade, a raíz dessa tendência está no aumento da penetração de conexões por banda larga nos domicílios. É essa conectividade que permite a transmissão de conteúdo em vídeo pela internet com alta definição e qualidade. Foi só no final de 2008 que penetração de conexões de banda larga ultrapassou 20% dos domicílios dos países membros da OCDE, por exemplo. Trata-se de um número mágico, um indicador de que um segemento é capaz de sustentar indústrias de massa. Até 2015, estima-se que 90% de todo o tráfego da internet será de vídeo. Ou seja, é só agora que a distribuição de conteúdo em vídeo pela internet está atingindo o grau de qualidade necessário para competir em pé de igualdade com os meios tradicionais de distribuição desse tipo de conteúdo, coisa que aconteceu para o conteúdo impresso e em áudio há pelo menos 10 anos.
Seja qual for o estopim, a revolução há de ser fascinante, não só pelo tamanho do bolo mas porque os adversários estão muito mais espertos. As indústrias de cinema e televisão tiveram a oportunidade de assistir de camarote à agonia das indústiras da música e do jornal e, ainda que propensas a cometerem exatamente os mesmos erros, estão mais preparadas e equipadas para jogar o jogo.
2 de setembro de 2010
Caiu na rede social...é peixe?
Em seu mais recente estudo sobre o tema, a Nielsen registrou enorme crescimento no tempo dedicado por usuários da internet a redes sociais. Esta que já era a categoria mais visitada de sites no ano passado, hoje recebe mais que o dobro da atenção que a segunda categoria - jogos online - e representa quase um quarto de todo o tempo que as pessoas passam online. Analistas estimam que o Facebook, maior rede social do planeta, faturou 800 milhões de dólares em publicidade em 2009 e que deverá superar a casa do bilhão este ano. Irão as redes sociais comandar uma fatia da receita publicitária online condizente com sua representatividade em termos de time spent? Não creio.
Fonte: The Nielsen Company
Redes sociais têm características de mídia de massa, não há dúvida, mas também são uma ferramenta de comunicação interpessoal com funções similares aos do e-mail e das mensagens instantâneas, que são comporvadamente pouco eficazes para a transmissão de mensagens publicitárias. Ou seja, ao refletirmos sobre o potencial publicitário das redes sociais, precisamos segmentar o tráfego e entender quanto dele é útil do ponto de vista publicitário.
Assinar:
Postagens (Atom)